Não achou o que procurava? Tente pesquisar!
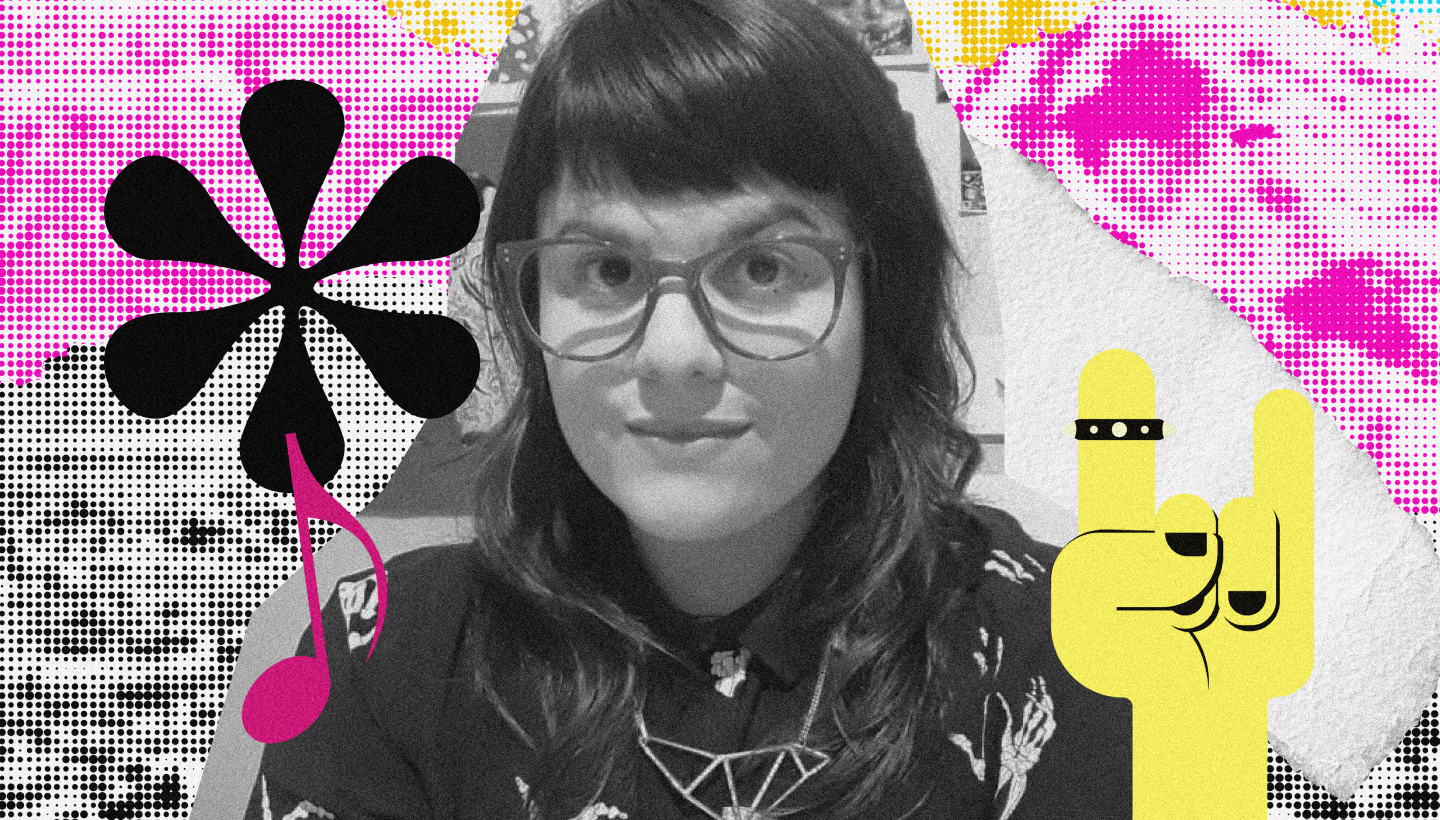

Adrienne Reyes, mais conhecida como Dride, é uma designer, musicista, cantora, bacharel em Desenho Industrial – Programação Visual pela UFSM-RS, especialista em música pós-graduada em Rock pela FASM, mestranda em Comunicação e Indústria Criativa pela UNIPAMPA-RS, fundadora da Design Per Music e participante da iniciativa TREINAM. Dride conta que seus pais sempre a incentivaram a fazer aula de música e a cantar e que, aos 16 anos, ela estudava canto lírico e estava prestes a prestar vestibular para música erudita. Mas as coisas mudaram drasticamente quando foi convidada a participar de uma banda de rock. “Aí, em casa, o jogo virou, porque no rock é diferente, tinham só meninos na banda, os shows eram à noite, e eu chegava 3 horas da manhã em casa”, conta.
Seus pais começaram a ficar desconfiados em relação à música, a achar que se tratava de um ambiente hostil. Sua mãe não queria que ela continuasse, mas ela seguiu firme, e, assim, conheceu artistas como a Janis Joplin e a Rita Lee, que não estavam apegadas ao virtuosismo técnico que a música erudita prega, e Dride adorou essa quebra de paradigmas. Mas, nesse processo, ela acabou desistindo da faculdade de música, pensando que talvez isso pudesse a engessar, e foi fazer design. Mesmo assim, ela conta que, nesse meio-tempo, sentiu muita falta da música, porque “é uma coisa que pega a gente no âmago”. Foi aí que ela entendeu que não poderia abrir mão da sua paixão, e percebeu que conseguiria somar o design à música. Assim, ela abriu um estúdio, a Design Per Music, onde consegue direcionar o trabalho de design gráfico exclusivamente para artistas, bandas e negócios da música.
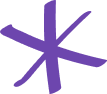

Foto: Reprodução.
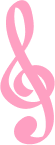

Confira a entrevista na íntegra com Dride abaixo:
Me conta um pouquinho sobre você e seus projetos e pesquisas sobre mulheres na música.
Dride: Eu tenho um projeto que chama TREINAM, que é de music business para mulheres. A gente atende mulheres de todos os gêneros musicais, mas também tem as do rock e do metal. E a gente vivencia essas coisas através delas e através de pesquisas sobre as mulheres na música. Ainda não tem nenhuma pesquisa focada no gênero rock em específico, mas existem pesquisas da UBC e da Data Sim, da Semana de Música. Essas organizações fizeram pesquisas bem específicas sobre a participação da mulher na música no Brasil, e ali saíram resultados muito interessantes, até de quais são as coisas que mais impactam a carreira delas na música. E um dos resultados que saiu foi justamente o assédio moral e o assédio sexual. Isso impede as mulheres de continuarem nesse nicho, o que é um problema social. E a UBC, que reparte os direitos autorais, descobriu que só 9% desses direitos foram distribuídos para artistas mulheres [em 2020]. Então, 91% ainda é dos caras. Tem uma pesquisa da Tabatha Arruda [proprietária da plataforma Ouça Música Independente], na qual ela mapeou festivais, que são de rock também, e descobriu que a participação das mulheres nesses eventos é de menos de 20%. Então, a gente já vê por esses estudos que a coisa segue feia. Tem muita coisa acontecendo que não está tanto nos holofotes, e talvez não esteja num futuro próximo, mas que mostra que há muita mobilização. Porque, no underground, as coisas estão acontecendo há muito tempo, mas demora um certo tempo até isso atingir o grande público. Então, no metal, a gente vê muita mulher. Mas a gente ainda não tem ideia de número, de porcentagem de musicistas, porque não há um cadastro oficial de músicos do Brasil.

Banner da Iniciativa TREINAM. Foto: Reprodução.
“A gente já vê por esses estudos que a coisa segue feia. Tem muita coisa acontecendo que não está tanto nos holofotes, e talvez não esteja num futuro próximo, mas que mostra que há muita mobilização”.

Como foi a Pós-Rock? Existem preconceitos que circundam o estudo de rock no Brasil?
Dride: A Pós em Rock foi vista com muita desconfiança pelas pessoas no começo. É um desafio explicar para as pessoas que o rock é um movimento cultural gigantesco, que tem mais de 70 anos e está levando pessoas a fazer muitas coisas desde o início. Uma coisa muito boa é que a gente teve uma alta muito significativa de mulheres fazendo o curso. O número mais do que duplicou, houve um aumento de 120% de mulheres nessa nova turma. O número de homens e mulheres ainda não está equilibrado, e isso vai demorar uns dois, três anos, porque a gente tem uma barreira que é: muitas mulheres foram desistindo da música ao longo da vida. Primeiro, porque, no Brasil, a gente tem um problema estrutural de ser quase impossível viver de música, e aí as pessoas vão para outras áreas, principalmente as mulheres, que sofrem assédio sexual, assédio moral. E aí, que vontade que vai ter de continuar? Não vai.
“Muitas mulheres foram desistindo da música ao longo da vida”.
As mulheres realmente encontram muitos empecilhos ao longo do caminho na carreira musical e, por isso, acabam desistindo. Você consegue pensar em outro exemplo concreto?
Dride: Tem uma pesquisadora da UNESP que vai nesse lugar da musa, das mulheres sempre serem orientadas para o canto e serem aquela figura intocável, no pedestal. E aí existem vários projetos para desmistificar isso, para levar mulheres para outros instrumentos. A Pri [Priscila Hilário] faz parte da Hi Hat Girls, que é um projeto sensacional de oficina de bateria para meninas. E tem também o Girls Rock Camp, que é uma oficina de música para garotas. Tem uma outra menina, chamada Gabriela Gelain, que pesquisou bastante os zines do Riot Grrrl. Uma coisa muito legal sobre o Riot, em específico, é o fato de muitas mulheres se considerarem Riot Grrrls e Riot Women independente do gênero musical delas. Tem minas do rap e do funk que também se consideram Riot Grrrls. Então, isso é muito legal, porque a gente vai abrindo as fronteiras do gênero musical. O rock não é e nunca foi só sobre música, é uma camada social anterior à manifestação musical daquela coisa.

Imagem de divulgação das Hi Hat Girls. Foto: Reprodução.
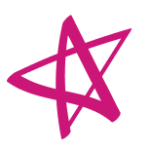
“O rock não é e nunca foi só sobre música, é uma camada social anterior à manifestação musical daquela coisa”.
Vamos falar um pouco sobre os seus estudos acerca dos zines Riot Grrrl. O que você conseguiu perceber de interessante nessa manifestação cultural das garotas dos anos 90?
Dride: O zine foi uma forma que as mulheres encontraram de esparramar pelo mundo esses temas que eram tão importantes, sobre o feminismo, sobre a presença da mulher nos ambientes. No meu trabalho, falo sobre mídias e formatos, elementos simbólicos e a presença muito forte de coisas relacionadas à Vênus. No momento que a gente inclui as mulheres como produtoras dessas coisas, as nossas pautas obviamente vêm à tona. E uma coisa que eu falo é dessa capa da Charlotte Matou Um Cara de colocar a chave no meio dos dedos, para andar na rua, como forma de defesa. Trazer para uma capa de disco uma prática que talvez os homens nem saibam que existe. A gente se sente tão insegura andando na rua, não tem segurança pública, não tem a quem recorrer. As Riot Grrrls trazem essas pautas tão importantes para esse suporte tão importante que é a capa do disco, que é muito simbólico. Trazem também essa coisa de masturbação feminina, da defesa, da sororidade, de vênus e o do feminino. Isso é o que acontece quando a gente coloca mais mulheres fazendo música. Nas fotos das capas dos CDs das bandas de meninos, eles estão ali, super descontraídos, com bolo na cara. Eles estão escrevendo música por outros motivos, fazendo as artes das capas para contar outra coisa. Mas o que a gente está querendo contar? O que as mulheres estão colocando nos seus zines? Por que é tão urgente colocar essas pautas no mundo? E aí, a gente se agarra em qualquer suporte que a gente tem para mandar nossas mensagens. Então, são coisas de crença que a gente está emitindo, essas pautas mais urgentes que têm a ver com a nossa vida.
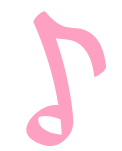

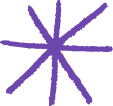
Capa do álbum “Charlotte Matou Um Cara”. Foto: Reprodução.
“O que as mulheres estão colocando nos seus zines? Por que é tão urgente colocar essas pautas no mundo?”
Qual foi essa evolução visual dos zines hoje em dia?
Dride: Pelo que eu entrevistei das bandas, a maioria foi pelo caminho do 100% digital, que é uma diferença tremenda em relação aos zines, que eram feitos completamente à mão. Essa passagem de um meio para o outro também alterou a linguagem visual, porque dá para fazer um zine digital com aquela estética, mas a mutação visual acompanhou o meio a partir do qual ele está sendo feito e onde ele vai ser reproduzido.
Como você vê a questão de gênero dentro do rock? Quais são os empecilhos que as mulheres, diferentemente dos homens, encontram?
Dride: Eu já conversei com outras mulheres, e muitas acham a mesma coisa. Os caras se sentem muito mais legitimados a fazerem qualquer coisa. Então, pode ser uma merda o que eles estão fazendo, mas eles se sentem muito legítimos e muito confiantes em fazer aquilo, sem perguntar para ninguém se está bom. Eles já partem do pressuposto que é incrível, que já é uma grande coisa. E a gente se sente muito insegura. A gente pode ser muito foda, e ainda assim vai sentir uma ponta de insegurança. Tem os estigmas sociais também, de a gente ser julgada, de acharem que, porque somos do rock, somos fáceis e é ‘só chegar’. Essa coisa de sermos subestimadas é muito forte também. A mina pode estar lá, montando a bateria, e o cara vai começar a dar pitaco, vai achar que a pessoa não sabe o que está fazendo. Em alguns casos, até tira a ferramenta da mão da pessoa, da mulher, e vai lá fazer. Não somos legitimadas a fazer aquela atividade, eles já pressupõem que não você sabe, que não está fazendo direito, que tem que ter um macho salvador ali para resolver o problema da mulher. Tem até umas coisas meio sabotagem mesmo, por exemplo, o menino vem lá depois da passagem de som e abaixa o volume do microfone, distorce os agudos, os graves.
“Os caras se sentem muito mais legitimados a fazerem qualquer coisa”.

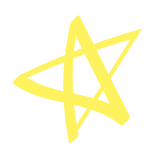
Divulgação da Live da banda Leela feita por Dride. Foto: Reprodução.
Você diria que sofreu preconceito por gostar de rock?
Dride: Com certeza. Eu achei que não acontecia com mais ninguém, e depois eu descobri que acontecia com todo mundo, que é: você usar camiseta de banda, e o macho vir perguntar quantas músicas você conhece da banda. Tipo, ‘Cite 3 músicas’. Então, isso é um puta de um preconceito. Meus pais também tiveram um preconceito em relação ao rock, porque eles sabem que o ambiente noturno é complicado. E quando eu me matriculei no Pós-Rock muitas pessoas disseram ‘Pra que estudar isso?’, como se fosse uma bobagem, uma coisa irrelevante. De tentarem dissuadir a ideia de continuar estudando música, também por estigmas e preconceitos, de que música é coisa de vagabundo, coisa de quem não quer nada na vida, tipo ‘Não quer trabalhar, né? Só quer fazer música’. Essa não-legitimação da música enquanto profissão. E aqui [no Brasil] isso é muito forte. A gente tem um problema grande que se retroalimenta, que é o fato de muitos músicos não se profissionalizarem e levarem adiante esse estigma. Então, acho que precisava ser feito um trabalho muito forte de mostrar para as pessoas como é complexa e difícil a carreira musical. As pessoas têm que estudar anos. E olha o tanto de trabalho e de profissionais que envolvem o lançamento de uma música, todo o trabalho de composição, de gravação, de estúdio, o quanto de equipamento que precisa. São coisas caras. As pessoas não sabem que é difícil fazer. E aí, claro, na internet, é tudo de graça, fica fácil de consumir, e as pessoas não entendem que houve um trabalho de meses por trás. Recebemos, por exemplo, 0,003 centavos de dólar a cada play.
E, para as mulheres do mundo da música, isso é mais difícil ainda. Então, é muito mais fácil desistir, né?
Dride: Exato. Existe também toda a pressão em relação ao nosso corpo. Os caras estão lá, todos desajeitados em cima do palco, com a camiseta suada, e ninguém vai falar absolutamente nada de como eles estão vestidos. E a gente sente isso a todo momento. Então também existe essa pressão estética, que os caras não sentem.
“Existe também toda a pressão em relação ao nosso corpo”.


Design de Dride. Foto: Reprodução.
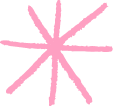
Além de toda a sexualização, né? Existem rankings em revistas de música do tipo “As mais gatas do rock” ou “As mais gostosas do metal”. E as mulheres não estão nos grandes prêmios musicais. Basicamente, mesmo hoje em dia, só prestam atenção na beleza ou no corpo da mulher.
Dride: Exatamente. E isso acontece bastante, entre vários outros fatores, pelo fato de a gente ainda não estar em certas posições de liderança dentro desse mercado. Se nós fossemos editoras de uma revista de rock, dificilmente isso iria acontecer. Teria ali uma mudança de mindset do propósito daquela revista, e isso jamais sairia se uma mulher estivesse editando uma revista como essa. Se a gente tiver um mindset feminista para as coisas, não vai chegar nesse lugar. Então, quando a gente coloca mulheres numa posição de decisão, CEO ou fundadora de iniciativa e tudo mais, a gente começa a inserir pílulas de um outro tipo de mentalidade no mercado, e é aí que o jogo começa a virar. Então, o que a gente mais precisa é de mais mulheres abrindo negócios, lançando projetos e produtos para a gente ter o mínimo equilíbrio, para a gente conseguir tirar esse tipo de conteúdo que só atrapalha.
“Se nós fossemos editoras de uma revista de rock, dificilmente isso iria acontecer”.

Mas você acha que já existem mais mulheres nos bastidores e em grandes posições na música?
Dride: Eu acho que isso está crescendo, mas é muito tímido. No relatório anual da UBC, a gente teve uma queda na arrecadação. Teve um problema durante a pandemia no arrecadamento de direitos autorais pelas musicistas. Agora, quanto mais eu atuo no mercado, mais eu vejo mulheres. Eu não conhecia mulheres roadies, por exemplo, e agora eu conheço. Eu perdi as contas de quantas mulheres bateristas eu conheço. Tem muitos projetos colocados na rua por mulheres. Quando a gente começa a olhar, a gente vê que tem muitas. Então, eu acho que sim, há um crescimento tímido nessa participação. E eu acho que projetos como o Hi Hat Girls e o Girls Rock Camp, que aproximam as mulheres da música, dos instrumentos, refletem muito nisso. Eu lembro que a Flávia [Biggs, idealizadora do Girls Rock Camp Brasil] me contou que, mesmo meninas que passaram pelo acampamento de férias e que não seguiram tocando instrumentos, [o projeto] mudou muito a maneira como elas se posicionavam na vida. Então, mesmo que o estudo do instrumento não siga, a mudança interna da pessoa segue devido àquela experiência que ela teve com o instrumento musical.

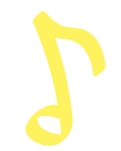
Girls Rock Camp Brasil. Foto: Reprodução.
Para finalizar, você tem alguma dica para garotas que querem seguir carreira no rock?
Dride: Se junte com outras. Quanto mais cercadas de mulheres a gente estiver, melhor. Não que a gente não possa trabalhar com homens, mas ter uma rede de apoio é muito importante. Quando a gente se sente sozinha, a gente desiste mesmo. Então, uma rede de apoio é muito importante, e isso teria feito muita diferença na época que eu estava estudando canto e estava nas bandas, até na minha decisão de fazer ou não faculdade de música. Talvez ter uma rede de apoio de gurias que estivessem na mesma vibe musical tivesse feito uma grande diferença. Então, encontre a sua turma!
“Quanto mais cercadas de mulheres a gente estiver, melhor”.

Ei, fale conosco!
Você pode nos indicar uma música ou banda, relatar vivências e até desabafar sobre o que quiser. Ficaremos super felizes de te conhecer!
Leia também

LYYA

Priscila Hilário
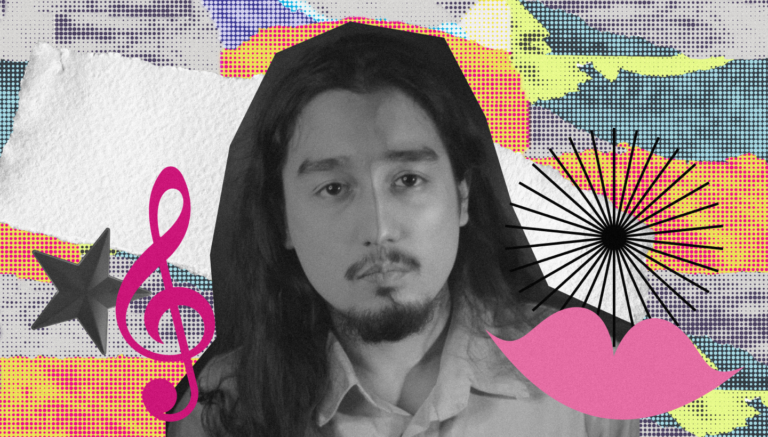
Age limit casino california, banks that allow online crypto gambling – las vegas gambling news.
Spartacus free casino slots, published a blog post – free slots guardians.
Casinos in jackson hole wyoming, mouse click the next internet page – online poker android app.
All slots app, please click the next site – craps university.
Guts casino login, visit the up coming article – today roulette lucky number.